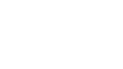TEXTOSDISCURSOS
Discurso de Posse na Cadeira 13 - Marli Silveira (20/04/2023)
24 de abril de 2023
Discurso de Posse na Academia Rio-Grandense de Letras
20 de abril de 2023
Ilustríssimo Escritor Airton Ortiz, presidente da Academia Rio-Grandense de Letras, em seu nome cumprimento as demais Acadêmicas e Acadêmicos da Academia, de modo muito especial, o paraninfo (meu padrinho), Acadêmico José Alberto Wenzel. Cumprimentar e agradecer a acolhida, considerando os tantos legados que constituem e dignificam a literatura do e no Estado do Rio Grande do Sul.
Cumprimentar familiares, amigos, escritores e demais colegas de outras entidades e organismos artístico-culturais.
No dia de hoje, dia 20 de abril de 2023, tomo posse como Acadêmica da Academia Rio-Grandense de Letras na Cadeira de número 13, cadeira que tem por patrono o escritor Carlos Alberto Miller. Poeta, romancista, ensaísta, folclorista e defensor da libertação das pessoas escravizadas. Defendeu, por conta disso, os ideais republicanos e a dignidade humana, além de ocupar diversos cargos públicos, referendando sua atuação e engajamento libertário.
É NECESSÁRIO RECONHECER, ANTES DE EMPRESTAR MINHAS PALAVRAS A ESTE MOMENTO TÃO SIGNIFICATIVO, A ENVERGADURA DA OBRA E TRAJETÓRIA DO ACADÊMICO CARLOS ALBERTO MILLER E UM POUCO DA HISTÓRIA DA CADEIRA 13.
Carlos Alberto Miller nasceu no dia 12 de dezembro de 1855 e faleceu em 07 de maio de 1924, em Rio Grande. Nasceu e escolheu Rio Grande para tecer sua vida de escritor, advogado e liderança política. Filho de Joaquim Carlos Miller e Maria Bernardina de Araújo Miller. Formou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Ocupou os cargos de Diretor Geral da Companhia Fluvial em Porto Alegre e de Chefe dos Práticos da Barra do Rio Grande. Também exerceu advocacia e o magistério e foi redator dos jornais GAZETA MERCANTIL e ECO DO SUL. Foi vereador e presidente da Câmara Municipal, tendo exercido o cargo de Administrador da Mesa de Renda do Estado.
Carlos Alberto Miller teve dois filhos, Alcides Miller e Luis Carlos Miller, irmão de Juvenal Miller e Abílio A. Miller.
Publicou diversas obras, entre elas, CASUARINAS, em 1886, TIRADENTES PERANTE A HISTÓRIA (ou Resposta Perante as Alegações Pernambucanas), ensaio de crítica histórica, em 1895; Contribuições ao Estudo do Folclore, livro póstumo, publicado em 1968 pela Comissão Estadual de Folclore e organizado por Walter Spalding. Diversos artigos seus foram publicados no Jornal ECO DO SUL, de Rio Grande, principalmente abordando temas sobre o folclore, além de sonetos, poemas e crônicas. Publicou poemas e crônicas no Almanaque Literário e Estatístico do RS, entre 1889 e 1898.
Deixou obras inéditas, como o romance A MORGADINHA DE FARO, a novela RETRATO DE VÊNUS, A POESIA POPULAR no RIO GRANDE DO SUL, ensaio, SONETOS E LEGENDAS.
Repercuto alguns versos de uma das suas obras poéticas, DE CASUARINAS (poemas da noite, do vento e da liberdade):
A POESIA
A poesia... é como as rosas ideais
do nosso pensamento,
como um rio de águas lustrais
que nos apura o sentimento.
Dela brotam os cândidos perfumes
que nos causam sensação.
Tudo em quanto uma alma em si resume,
tudo quanto resume o coração.
A Cadeira 13 teve como seu último ocupante o Acadêmico Jaime Piterman, formado em Direito e em Filosofia pela Universidade Federal do RS. Nomeado Juiz de Direito em 1975, atuando nas Comarcas de Jaguari, Nova Petrópolis, Pelotas, Taquari, Passo Fundo, São Leopoldo e Porto Alegre. Foi promovido a Juiz do Tribunal de Alçada em junho de 1995, onde foi Presidente da 4ª Câmara Criminal, e, em maio de 1998, a Desembargador do Tribunal de Justiça. Atuou na 6ª Câmara Criminal até ser eleito 2º Vice-Presidente. Foi juiz do extinto Tribunal de Alçada do Rio Grande do Sul até o ano de 1995, e professor de Filosofia do Colégio Estadual Júlio de Castilhos de Porto Alegre de 1969 a 1974. Ocupou a Cadeira 13 da Academia Rio-Grandense de Letras de 1975 a 2022.
Jaime Piterman é autor, entre outros, do livro de ensaios O Espírito do Homem e a obra de Montesquieu, do Centro de Teledifusão Educativa da UFRGS. Colaborou na Enciclopédia Saraiva do Direito e publicou artigos de doutrina na Revista de Direito Civil e Revista dos Tribunais sobre os temas Bases Sociais do Direito Comparado e o Princípio da Independência do Juízo.
Senhoras Acadêmicas, Senhores Acadêmicos, Familiares, Escritores, Amigos,
A CADEIRA 13 TEM UM LEGADO, ASSUMO, PORTANTO, A CONTINUIDADE DE UMA HISTÓRIA LITERÁRIA
Meus pais eram da Campanha do Rio Grande do Sul, aprenderam desde muito cedo a contornar o assovio da finitude alargada pelo minuano, bem como a cultivar relações forjadas pela coragem. Penso que em tudo o que escrevo, o tom da incontornável finitude se atravessa, aprumando um jeito de fazer poesia e um modo de esticar o tempo na palavra que alcança a literatura.
Podemos dizer que desde sempre (sem saber exatamente apontar o dia e a hora deste “desde sempre”) o ser humano contou/ouviu histórias. E o pensamento grego, a cultura grega, como poucos, compreendeu a dinâmica inerente à vivência da arte (arte que poderíamos dizer literatura tendo em vista as tragédias/textos épicos gregos), quando o público com os seus artistas e poetas (os psicagogos) eram conduzidos pelas narrativas a uma produção de si que está ontologicamente vinculada à pendularidade na qual o indivíduo humano se abre a partir de si mesmo para o mundo. Não apenas isso, também tem a ver com uma disponibilidade para, um deixar-se tocar, colocar a sua imaginação para a impressão de.
O lastro ontológico da experiência estética, que se abre a partir da disponibilidade inerente ao deixar-se conduzir pelo que se ouve, pelo que se lê ou pelo que se escreve, também repercute, segundo entendemos, no que a pensadora Martha Nussbaum (1995) irá conceituar como “identificação empática”, que seria a habilidade de se imaginar e participar da vida de outra pessoa pelo que é narrado/testemunhado. A boa literatura, de acordo com esta autora, é aquela que permite ao leitor imaginar o que é viver a vida de outra pessoa, “que dada as mudanças circunstanciais, poderia ser ela própria ou alguma das pessoas que ela ama” (NUSSBAUM, 1995).
Como também já nos assegurou Thormann (2007), e na medida em que somos sujeitos vulneráveis à dor, à fragilidade física e existencial, pode-se reconhecer a vulnerabilidade humana como um dos fundamentos para uma forma de empatia cosmopolita. Não que não se possa produzir consensos e perspectivas éticas a partir de outros recortes, inclusive, abertos pela capacidade argumentativa/racional humana, mas a questão aqui é o fundamento originário de uma ética respaldada por este “sem fundo” humano, próprio da extrema vulnerabilidade existencial que nos acompanha. No nosso caso, de uma estética endereçada ao vazio próprio do sem fundo que acompanha a condição humana vislumbrada pela aderência ontológica.
E é justamente o fato de sermos implicados por uma transitoriedade que nos permite repactuar nossa própria vida com a vida dos outros, sem ela, viveríamos uma linearidade sem espessura existencial, sem possibilidade de nos alargarmos a nós mesmos e sem sermos açambarcados pela experiência estética.
Sempre achei que Clarice Lispector tinha razão quando dizia que sabia muito pouco, mas tinha a seu favor tudo o que não sabia. No caso, ausentam-se os preconceitos quando se ingressa em campos pouco ou nada conhecidos. É como estar liberado da carga de determinações, medidas e sentidos ditados pelas incursões partilháveis cotidianamente.
Guardadas as diferenças estilísticas, Sócrates (ou aquele a quem lhe deu identidade) posicionou sua filosofia sobre o vértice da ignorância antecipativa, se assim podemos dizer. Partir da premissa que nada se sabe, conduz aquele que julga não saber, a saber mais.
Levei anos para entender que a melhor parte de mim é aquela que não se sabe, pois é com ela que posso me propor ao devaneio criativo, ao espaço capaz de criação. Quanto mais permanecemos habitando este lócus existencial, esticados na tensão de nós mesmos, mais podemos insinuar, modificar. O que em mim cria está em aberto, pois é justamente a sinuosidade de uma mesmidade que não está dada que permite que nos lancemos na direção de nós e do mundo, podendo revisitar nosso próprio modo e as implicações da agência criativa.
Quem poderia se propor a rasgar a matéria do tempo, rompendo um segundo existencial no instante do acontecimento? Somente aquele que experiência a dramaticidade da própria vida que não pode ser parada, interrompida. A que se criar outra vida, articulada aos sentidos abertos pelos tônus da própria insinuação temporal.
Quem se recusa a perceber que sua vida está esticada sobre o abismo existencial, recusa a possibilidade da criação de si, inclusive, quem sabe, de imaginar o mundo. Não precisamos de adensamentos que se aprofundam para uma interioridade domesticada, precisamos soerguer o lastro que precisa ser rompido na direção do fora. É nesta tensão entre o “dentro” e o “fora” que a vida acontece, a vida que vale a pena ser vivida.
Há uma proximidade entre a experiência-limite que se arvora requisitar a liberdade e a escrita enquanto emergência artística. Naquela, lançada na direção de si, condição aberta pela ausência de todo o ser, todo o sentido, deseja assumir a si mesmo, apesar das dores e das agruras da responsabilidade. Verga o próprio ser e desnuda-se nas dobras do seu acontecer na iminência do instante acontecimental. Nesta, insurge-se dos ruídos das telas, cenas e páginas apagadas, pois um bom artista precisa primeiro zerar o tempo para que possa insinuar o inaudito na tessitura de um mundo já experimentado.
A vida inventada não pode negar o passado e nem esmorecer diante do tempo que fixa um mínimo de presentidade. Uma perspectiva irrefreavelmente lançada admoesta bons sonhadores. A vida que se inventa eclode no maravilhamento do instante. É quando o tempo resvala da sua cronologia e instala-se como potência de si na exatidão de qualquer coisa que acontece liberta.
É preciso entardecer o tempo, senti-lo penetrando em nossas entranhas com a mesma dor e intensidade que são próprias das experiências que nos deixam atônitos, pois para buscar-se a si, necessariamente o ser humano precisa se sentir perdido.
O ontem não é avesso ao futuro quando vivido pelas brechas de um tempo que se alarga para tolerar o dia que se levanta. Nossos melhores sonhos, no fundo, não dizem respeito à realização de algo inesperado, mas a reabilitação de alguma coisa que ficou inconclusa no ontem de nossas vidas.
Alargar as horas, prezar o dia entardecido. Precisamos de um pouco mais de demoras, entretidos com as muitas voltas não contadas pela medição do tempo. Não somos o resultado dos anos que se somam, mas da intensidade dos instantes que nos sobram. Quando conto minha história, não desteço o calendário da minha vida, debulhando dia após dia. Conto sobre o que resta, sobre o que se dobra enquanto evento esgueirado entre as horas enfileiradas.
A vida como obra de arte não tem a ver com uma permuta de domicílio existencial, pois a bem da verdade viver é devolver ao tempo aquilo que ao tempo mesmo não falta. Não jogamos com o tempo, mas no tempo. Não é à toa que o domínio do seu transcurso somente pode ser experimentado como sensação exaurida de uma pressa encurtada. Ou estendemos nosso modo, emprestando certa permanência sentida de nós mesmos, ou somos devorados pela insistência das horas.
Arrisco, mas com medo de errar, que a maneira mais adequada de compor com o mundo é lançar-se na direção do futuro acontecido. Com isso não perdemos de vista a novidade, retroativa de si mesma, pois é neste instante que a noite já não é noite, mas um repertório de possibilidades que amanhecem sempre.
Há um desejo na palavra poética: pronunciar o acontecimento exemplar. No fundo, o que todo poeta procura é ritualizar o movimento da mostração primeira, desautorizando o tempo a continuar contando as horas desprendidas da sua gênese elementar. Como uma criança que ao ver o gesto do mundo, é tomada pelo sublime, afeto próprio do inalcançável. Atirar a vista sobre a realidade, circunscrevendo um modo de se dar em companhia desde um início tocado de si. Eis a grandiosidade da palavra poética, apresentar o mundo como se fosse pela primeira vez.
Escrevo para entardecer o tempo!!!
E partir de hoje, também, para me entardecer na companhia de cada uma das confreiras e confrades na literatura do Rio Grande do Sul
Obrigada!
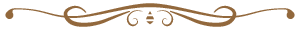

 ANTERIOR
ANTERIOR

 VER MAPA
VER MAPA