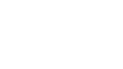TEXTOSDISCURSOS
Discurso de Posse na Cadeira 32 - Cláudio Moreno (17/12/2015)
17 de dezembro de 2015
Senhor Presidente,
Demais membros da Mesa,
Autoridades presentes,
Estimados acadêmicos,
Amigos e familiares,
Senhoras e senhores:
Gostaria, inicialmente, de expressar minha gratidão ao acadêmico Ruben Daniel Castiglioni, meu amigo de longa data e agora meu padrinho nesta Academia.
A valiosa distinção que recebo esta noite, eu a dedico à Camila, ao Matias, à Nina, ao Vicente, à Amanda, à Luísa e à pequenina Manuela, meus filhos, a quem espero servir de exemplo e de motivo de orgulho. Dedico-a, também, particularmente, à minha mulher, Ana Paula, hoje de aniversário, que tem sido a inspiradora e a crítica carinhosa de cada linha que publiquei nestes últimos quinze anos.
Há uma frase tão boa para definir tradição que, como era inevitável, a tribo da internet já a creditou a mais de meia dúzia de autores diferentes, tão famosos e heterogêneos quanto Thomas Morus, Benjamin Franklin ou Gustave Mahler: "Tradição não consiste em venerar as cinzas, mas em preservar as chamas". Seja quem for o seu verdadeiro pai, não conheço fórmula melhor para descrever a missão de uma Academia como esta: ela não existe só para guardar as cinzas, mas, acima de tudo, para atiçar o fogo, para não deixá-lo morrer. Preservar e transmitir — é disso que se trata, porque o homem nunca começa do zero. A comparação é de Ortega Y Gasset: ao contrário da história natural, a história humana nunca pode começar de novo. O tigre de hoje é idêntico ao de seis mil anos atrás, porque cada tigre tem de começar de novo a ser tigre, como se nunca tivesse existido outro; o homem, ao contrário, nunca é um primeiro homem, pois já parte de um passado acumulado por todos aqueles que viveram antes dele.
Nada mais acertado, portanto, que a posse de um novo acadêmico comece pela evocação do patrono da cadeira que vai ocupar, renovando simbolicamente o vínculo com o passado fundador e assegurando a memória das gerações que já se foram. Das quarenta cadeiras que compõem esta Academia, contudo, nem todas têm patronos que o leitor moderno reconhece. Não há dúvida que cada um deles teve mérito e fama no seu tempo, conquistando a presença obrigatória nos dicionários e nos manuais de literatura; alguns, porém, hoje esgotados, só foram lidos e admirados por seus contemporâneos — talvez porque, naquela época, sua atuação no mundo cultural da cidade fosse mais importante, no fundo, do que a obra escrita que deixaram. Este é exatamenteo caso de de Pedro Velho — na verdade, Pedro de Castro Velho —, patrono desta cadeira 32, poeta quase esquecido e que agora passo a recordar, em benefício dos que ainda não conhecem sua vida e sua obra.
Não ficaram muitos registros sobre sua vida pessoal. Morreu jovem demais para deixar memórias e, infelizmente, ao contrário de muitos de seus contemporâneos, não manteve um diário pessoal. Quase tudo o que sabemos dele veio de informações colhidas nos jornais da época e nos depoimentos fornecidos por escritores que conviveram com ele pelos bares e cafés desta cidade, como Zeferino Brasil, Álvaro Moreyra e Dario de Bittencourt, entre outros.
Pedro Velho nasceu em Porto Alegre, em 1882, e morreu também aqui, em 1919, aos 37 anos de idade. Como não consigo, baseado apenas em datas e números, imaginar concretamente como essa curta existência se insere no quadro maior da época em que vivemos, apliquei a nosso poeta o mesmo recurso que utilizava nos bancos do ginásio, no Colégio de Aplicação, para melhor situar um personagem histórico: emparelhá-lo com os vultos importantes que nasceram no mesmo ano.
Pois em 1882, quando Pedro Velho nasceu, nascia também Franklin D. Roosevelt, que seria um dos estadistas mais importantes do século passado. No mundo da literatura, vieram ao mundo neste ano dois autores importantíssimos de língua inglesa, James Joyce e Virgínia Woolf. No Brasil, em São Borja, nasceu nada mais, nada menos do que Getúlio Vargas — e finalmente, em Taubaté, viu a luz pela primeira vez aquele que seria um dos mais importantes escritores brasileiros do séc. XX, Monteiro Lobato, que iluminou minha infância ao me mostrar que a leitura pode ser um prazer incomparável. Embora à distância, esses seriam os contemporâneos de Pedro Velho nos trinta e poucos anos em que compartilharam a atmosfera deste planeta.
Também se sabe pouco sobre sua formação, mas não há dúvida de que ele foi criado num meio que valorizava a cultura e a literatura. Pelo lado paterno, nem tanto, pois descendia de uma família com tradição militar. Seu pai era um capitão de Infantaria, e um de seus tios era um famoso almirante de nossa marinha, Antônio Francisco Velho Júnior, que teve destacada atuação na Guerra do Paraguai.
Do lado materno, porém, provinha de uma linhagem de intelectuais e poetas. Sua mãe, Dulce de Castro Velho, era filha de João Capistrano de Almeida Castro, homem de grande atuação na política e na administração do estado. Promotor, foi também diretor-geral do Tesouro Provincial, vice-presidente da província do Rio Grande do Sul e diretor-geral da Instrução Pública entre 1846 e 1847.
Talvez mais importante ainda para nosso poeta foi um dos irmãos de dona Dulce, João Capistrano de Almeida Castro Júnior, que dedicou sua vida à poesia e — o que era quase um pleonasmo naquela época — terminou morrendo tuberculoso na flor de seus trinta anos. A semelhança das duas carreiras poéticas talvez não seja coincidência, e pode-se especular o quanto não deve ter sido importante para Pedro Velhoa figura deste tio. Ele morreu quinze anos antes do nosso patrono ter nascido, mas deixou na família um exemplo que certamente lhe terá servido de inspiração e de estímulo. As palavras que Aquiles Porto-Alegre usa para falar dos poemas de Castro Júnior poderiam ter sido empregadas, alguns anos depois, para descrever a obra de Pedro Velho: "seus versos possuem uma tristeza indefinida, como se expressassem o pressentimento que sua vida seria curta". Como se viu, entre a linhagem militar do ramo paterno e a carreira das letras do ramo materno, a influência de Dona Dulce parece ter prevalecido.
Não era uma casa abastada. Quando eu tinha nove anos, perguntei a meu pai se nossa família era pobre. Ele era bancário, e minha mãe era professora primária. "Não", respondeu. "Nós somos remediados". Era a primeira vez que eu ouvia essa palavra, e poucas vezes, desde então, tive a oportunidade de usá-la. Pois hoje ela cai como uma luva: assim também era a família Velho — remediada. O soldo do pai garantia uma vida sem excessos, mas também sem necessidades. Não sabemos em quantas cidades ele serviu, mas deve ter passado por muitas transferências até chegar a capitão e a se estabelecer definitivamente na capital. Em 1900, um despacho do Ministério da Guerra concede pensão de meio-soldo e montepio a Dona Dulce, ali qualificada como "viúva do capitão reformado Francisco José Velho".
A esta altura, Pedro Velho tinha 18 anos e já escrevia poesia. Não saiu de casa, não teve amores de carne e osso. Até 1919, ano em que morreu, nunca deixará de ter a companhia de dona Dulce, mãe devotada que vai sofrer a lenta agonia de um filho que o destino aquinhoou com o melancólico dom de ser um poeta doente. E é com ela a seu lado, onde sempre esteve, que ele vai morrer aos 37 anos, alcoolista, tuberculoso, celibatário sem filho e sem emprego.
Pouco sabemos sobre sua aparência pessoal; Walter Spalding nos diz que ele era um tipo bonito, de olhos claros, cabelos anelados e um moderado bigode. Não se conhece, ao menos até agora, nenhuma fotografia em que ele apareça; restou apenas uma gravura a bico de pena, inexpressiva, feita sem muito rigor, que o representa quase de perfil, a testa alta, encimada por um cabelo basto, cheio, crescido sobre as orelhas, e um bigode tradicional. Tirante a diferença no olhar, poderia passar por Castro Alves, não fosse a legenda.
Mas muito mais do que pelo bigode e pelo corte de cabelo, Pedro Velho estava na moda também por sua atitude diante da sociedade e da vida. O figurino literário da segunda metade do séc. XIX tinha exaltado a figura do boêmio, que levava uma vida despreocupada e desprezava qualquer ocupação rotineira. Ninguém poderia ser um verdadeiro poeta sem antes se libertar de convenções burguesas como a família, o trabalho regular e o matrimônio, que eram vistos como grilhões que aprisionavam o homem comum, incapaz de fazer arte.
Agora, porém, no apagar das luzes do século, e especialmente na França, país que então comandava nossa literatura e nosso gosto, esse alegre e irreverente poeta boêmio vinha sendo pouco a pouco substituído por uma figura ainda mais radical, a do poeta maldito. Corbière, Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, Mallarmé, Lautreamont, entre outros, começam a encarnar esse novo personagem. O típico poeta maldito rejeitava os valores da sociedade e se conduzia de maneira perigosa, antissocial ou autodestrutiva (especialmente com o consumo de álcool e de outras drogas). Como seu antecessor, o poeta do Romantismo, o poeta maldito era jovem, geralmente doente do pulmão, de uma saúde delicadíssima, o que, no entanto, não o afastava do vício e dos excessos. Sua vida alternava entre a taverna e o hospital. Resignadamente, esperavam — ou seria melhor dizer "desejavam"? — a visita da morte, que tinha o péssimo costume de chegar antes que fosse dado a seu gênio o justo valor que ele achava que merecia.
Pois os poetas malditos franceses vão ter também os seus seguidores aqui no paralelo 30, às margens do Rio Guaíba (que será sendo chamado de rio, a despeito de todas as mudanças terminológicas que os geógrafos venham a inventar). Seus poemas eram lidos nas praças de nossa cidade, sob o orvalho generoso das noites gaúchas. Sim, nas praças, que tinham se tornado, no início do século XX, o ponto de reunião favorito dos poetas e artistas. Os hábitos e costumes de Porto Alegre haviam sofrido uma verdadeira revolução sob o impacto de novas tecnologias: a implantação da iluminação elétrica na cidade e a substituição dos bondes de tração animal possibilitaram uma forma inédita de aproveitamento dos espaços públicos. A rua adquire então uma importância social que nunca tivera antes. Como bem descreve Charles Monteiro, no seu trabalho sobre a Porto Alegre dos anos 20:
"Era na rua que deslizavam os bondes elétricos; era na rua que se multiplicavam as vistosas luminárias; era na rua que novos espaços de sociabilidade burguesa, como os cafés, as confeitarias, os bares, os restaurantes, os teatros, os cinemas e as livrarias se alastravam. Muitos foram os cronistas da época que registraram essa mudança de hábitos e costumes na cidade que se modernizava"
Por estarem livres do bulício dos bares e dos cafés, as praças eram o lugar de encontro favorito dessa geração que antecedeu o Modernismo de 1922. Na Praça da Misericórdia se reunia um grupo composto de alguns escritores, vários deles ligados também ao jornalismo: Álvaro Moreyra, Eduardo Guimaraens, Felipe d’Oliveira, Homero Prates, Zeferino Brasil e Marcelo Gama — e com eles, Pedro Velho. A Praça da Harmonia era habitada por namorados e poetas, estes em tal profusão que Athos Damasceno Ferreira apelidou esta praça de "jardim dos poetas provincianos". O grupo que ali se reunia era composto, entre outros, por Zeferino Brasil, Augusto de Sousa Júnior, José Picorelli, Augusto Meyer, Athos Damasceno, Ernani Fornari — e com eles, o singularíssimo Pedro Velho.
Como os seus colegas europeus, os poetas gaúchos também flertavam com a morte e a doença. Corrijo. Melhor seria dizer: os poetas brasileirostambém flertavam com a morte e a doença. Antes da explosão quase carnavalesca da Semana de Arte Moderna de 1922, não foram poucos os poetas que Ronald de Carvalho chamou de "penumbristas", esses cantores da infelicidade e da desesperança, "que fugiam do sol para a sombra, para os meios-tons crepusculares, para a intimidade recolhida, suave e morna, de alcovas atapetadas e silenciosas".
O próprio Manuel Bandeira, que para mim divide o trono de melhor poeta brasileiro com Carlos Drummond de Andrade, publicou em 1917 o seu Cinza das Horas, onde se inclui o poema Desencanto, que poderia servir de hino para esta geração:
Eu faço versos como quem chora
De desalento , de desencanto.
Fecha meu livro se por agora
Não tens motivo algum de pranto
E lá se vai nosso grande Manuel Bandeira pelo livro afora, num sucessão de poemas cujas primeiras linhas, repletas de crepúsculos e de paisagens lunares, já bastariam para nos indicar o tom sombrio desta fase inicial de sua carreira. Exemplifico: "A sombra imensa, a noite infinita enche o vale...", começa um. "O crepúsculo cai, manso como uma bênção...", começa outro. E outro: "A tarde cai, por demais erma, úmida e silente...". E ainda: "O crepúsculo cai, tão manso e benfazejo...", ou "As estrelas tremem no ar frio, no céu frio...", ou "Vinha caindo a tarde. Era um poente de agosto...". E, finalmente, uma verdadeira pérola da literatura da depressão: "Esta manhã tem a tristeza de um crepúsculo...".
Os poetas locais adotam o tom extremamente melancólico dessa geração. Isso fica bem evidenciado num episódio que Álvaro Moreyra, que conviveu com a maior parte dos poetas gaúchos, narra com indisfarçável tom de autocrítica:
"Uma noite estávamos tristes e trágicos. Começou a chover. Calamos. A chuva pertencia à nossa religião. Filipe d'Oliveira abriu outra garrafa de Madeira R. Homero Prates acendeu o último cigarro do quinto maço. Eu acendi o primeiro do sexto no cigarro de Homero. Picorelli fixava os olhos no chão. "Bebe, Picorelli". Não se mexeu. "Não queres fumar, Picorelli?"— Silêncio. "Que é que você tem?". Continuou mudo, imóvel. Gritamos: "Picorelli!!!" — Então ele murmurou, sem levantar a cabeça: "E as mãos das mulheres que morreram sem pecar, e foram enterradas hoje? É a primeira noite debaixo da terra... A chuva vai molhar as mãos..". É claro que, ouvindo essas palavras, ninguém viu mais nada: todos mergulharam de súbito na mesma dor, na mesma ansiedade, no mesmo romantismo, na mesma desesperada e tenebrosa Poesia..."
Pois esse também é o tom dominante da poesia de Pedro Velho. Ele foi um daqueles poetas que pouco escreveram; seu único livro, publicado em 1906 — intitulado de Ocasos, o que me parece muito adequado paraum poeta crepuscular como ele — reunia apenas trinta e dois poemas, quase todos sonetos. Tinha 24 anos. Depois disso, silenciosamente, seu nome desapareceu da imprensa. Segundo João Pinto da Silva, na História Literária do Rio Grande do Sul, Pedro Velho "parecia exausto, senão desiludido de tudo, até de sua arte. A sua curiosa e longa deserção da publicidade, porém, não era indício de abandono do verso. Escrevia para si mesmo. O seu público era ele próprio".
Infelizmente, como se verificaria depois de sua morte, os poemas que escreveu nestes treze anos que lhe restavam de vida não tinham a mesma qualidade dos primeiros. A doença do pulmão, a depressão e o avanço do alcoolismo operaram uma mudança radical na dicção do poeta, que trocou os sonetos repassados de melancolia e pessimismo por quadrinhas escritas para adornar os álbuns das moças ou epigramas em que o autor tenta ser engraçado, mas sem muito sucesso. Na coleção rio-grandense de Júlio Petersen, que atualmente faz parte do acervo da biblioteca da PUCRS, tive a oportunidade de ler os originais datilografados do livro intitulado Mau Humor, e posso assegurar que seus amigos agiram acertadamente ao decidirem deixá-lo inédito, impedindo que essa obra insossa, de humor e rima primária, maculasse o renome do verdadeiro Pedro Velho que tantos admiravam, autor, como relembra Álvaro Moreyra, dos "versos que, naquele tempo, nós todos sabíamos de cor". A seu favor, corre a suspeita de que vários sonetos que ditou em seu leito de enfermo foram extraviados, caindo nas mãos de um amigo da onça que os publicou como sendo seus. Afinal, como diz Salvater, e como todos nós aqui sabemos, os desfiladeiros da literatura estão cheios de salteadores...
Lendo os sonetos que fizeram sua fama, ouvimos a voz de um jovem que, estrofe após estrofe, segue o cânone do penumbrismo para exprimir seu desencanto com a vida, ao mesmo tempo em que se prepara para a morte, que pressente cada vez mais próxima. A dedicatória é um poema quase casimiriano, dirigido à mãe, que o amparou até seu último dia:
Para ti, serei sempre esta criança
Que no berço e nos braços embalaste
Como a brisa serena que balança
A tenra flor no topo de uma haste.
Tudo aparece filtrado por sua visão tristíssima da vida e do mundo. Cego, por exemplo, começa assim:
Como um cego tateando pela estrada,
Apoiado no ombro de um mendigo,
Vou eu, e o meu destino vai comigo,
Por esta Vida sempre desgraçada.
E em Aridez:
Omeu peito é como um terreno abandonado
Onde, inculta, viceja uma erva venenosa
Que não deixa nascer o cálice da rosa
Nem deixa ter sabor o fruto desejado.
Ou, ainda, no soneto intitulado Em vão:
Ai! por que, num momento de loucura,
Matei as ilusões da mocidade?
Por que troquei por esta noite escura
Um dia azul, de tanta claridade?
O mesmo, em Sóis poentes:
Vês como cai nas bandas do Ocidente
O sol cansado, como um viandante
Que chega de uma plaga, além, distante?
Vês como o sol se some no poente?
E, por último, o trágico Enfermo:
Enfermo. Fim de Julho — o irmão de Agosto:
Esse Agosto é terrível: dá má sorte.
Bem lá diz o ditado: – traz desgosto...
A mim, permita Deus que traga a morte.
A publicação de Ocasos parece ter sido um divisor de águas na sua vida. A partir daí, entrega-se mais ainda ao álcool, que o deixa com o rosto inchado, vermelho, com a vultuosidade característica dos bêbados. O grupo de amigos tenta ampará-lo como pode, animando-o com elogios, mas, como Álvaro Moreyra registra, ele sabe que só fazem isso por piedade: "Pedro Velho, no terceiro copo, chorava: – Eu só acredito em mim porque vocês acreditam em mim...". Aliás, é de Álvaro Moreyra a única descrição sincera da decadência do amigo, neste trecho de As Amargas, Não:
Os amigos queriam ajudá-lo, mas ele não queria. Confessava-se derrotado: "Sou um sujeito sem sorte. E não sou mais nada". "Mas, Pedro Velho, em vez de se embriagar logo de manhã cedo, por que você não trabalha?". "Onde? Em quê? Com quem?". "Procure". "Não procuro. Ninguém me leva a sério. É o sobrenome que não deixa. É o Velho que me atrapalha. Todos tomam intimidade comigo: — Ó Pedro Velho! Velho não é a minha marca de família. É o meu adjetivo de letras escancaradas. — Ó Pedro velho! – "velho" aí é com minúscula. Como hei de exigir que me respeitem? Julga que eu bebo por vontade? Não, senhor. Bebo porque sou obrigado a beber".
Trocava o dinheiro que conseguia em moedas de quatrocentos réis. Ia encaixando uma por uma no olho esquerdo, conforme se aproximava das vendas espalhadas pelos quarteirões de varejo. Dentro, junto do balcão, pedia: "Bota um monóculo de cachaça aí”:
Começoua enfraquecer. Magro, com um bigode fino, curvado sobre a boca, quando a gente perguntava: "Vai bem, Pedro Velho?", respondia logo: "NAO" – porque, dizia, o bigode substituía o til em cima do "A".
Os pulmões atacados não resistiram. Pedro Velho foi para a cama. No quarto, junto da mãe que não arredava dele, os olhos fundos passeando pelo céu e pelo rio, emoldurados pela janela como um quadro, era ali que nos recebia, uns mais moços, outros mais velhos. Dizia:
"A verdade é que estou morrendo. Andaram espalhando que os tísicos não desconfiam que vão morrer. Pois eu tenho a certeza. É uma maçada. Não conheço ninguém no outro mundo, além do meu pai. Ora, não vou andar toda a morte grudado ao meu pai! Não aguento apresentações. Amizades novas são amizades que não duram. Eu gosto é de gostar por muito tempo. E lá é a eternidade, um mundão de tempo...". Morreu de tarde, na hora que mais amava. Morreu sem se importar.
Morreu na tarde do dia 6 de setembro, sendo enterrado no dia seguinte no cemitério da Santa Casa. Os amigos mandaram gravar na pedra mortuária a primeira linha de Além, soneto que tinha dedicado a seu amigo Marcelo Gama:
Eu só serei feliz quando me for embora....
Dario de Bittencourt, nos originais datilografados de um artigo sobre Pedro Velho e a geração de 1908, rabiscou, nas entrelinhas, uma nota melancólica: "Anos após, o sepulcro foi aberto e os ossos (parece) cremados; e a lápide marmórea que fim levou?". Coincidência ou não, depois de sua morte Zeferino Brasil se regenerou e nunca mais tocou numa gota de álcool, no que foi seguido por José Picorelli.
Além de ser muito benquisto, Pedro Velho parece também ter sido respeitado por todos os que o conheciam. Como afirmei no início, tudo indica que ele foi um poeta mais importante para sua geração do que parece para nós, que só podemos julgá-lo pela escassa obra que deixou — algo assim, mutatis mutandis, como o lendário Macedônio Fernandes, que praticamente não escrevia mas tanto encantava Jorge Luis Borges e seus contemporâneos. Ou como Pepín Bello, conhecido como "o homem que nunca fez nada", mas que foi uma das molas intelectuais da famosa Geração de 27, na Espanha, que reuniu, entre outros, Salvador Dalí, Rafael Alberti, Luis Buñuel e Garcia Lorca. Como Álvaro Moreyra, Dario de Bittencourt também relembra as reuniões junto ao poeta enfermo, na casa de porta e duas janelas no fundo da praça Alto da Bronze, nº 23: "Nas tardes e noites de domingo reuniam-se ali numerosos intelectuais em tertúlia, como o Euclides Lobato, Francisco Furasté, Hugo Barreto e jovens plumitivos".
Ao que parece, foi um interlocutor muito apreciado por seus pares, servindo de conselheiro e crítico dos mais jovens, que deviam respeitá-loainda mais por ver representado nele, em carne e osso, a idealizada figura do verdadeiro artista. Exangue, de olhos encovados, recebia as visitas no leito de doente, mantendo, apesar disso, seu humor ferino e seu talento verbal. Isso certamente explicará por que, em 1932, quando ocorreu a reorganização definitiva da Academia, seu nome foi escolhido como patrono de uma das quarenta cadeiras, passando a figurar para sempre numa lista que também inclui Alceu Wamosy, Carlos Teschauer, Carlos Von Koseritz, Damasceno Vieira, Eduardo de Araújo, Eduardo Guimaraens, Felipe de Oliveira, Félix da Cunha, Lobo da Costa, Marcelo Gama, Múcio Teixeira, Roque Callage e o próprio Simões Lopes Neto.
_____________________
Peço licença, agora, para ler um breve texto que faz parte das Noites Gregas, publicado neste ano pela L&PM:
Alguma coisa mudou
É Plutarco quem nos conta, em sua Vida de Nícias: em 415 A.C., Atenas promoveu uma desastrada expedição contra Siracusa, sendo fragorosamente derrotada. A tragédia não podia ser mais completa: seus navios foram totalmente destruídos, seus generais foram executados e milhares de atenienses foram encerrados em pedreiras abandonadas que serviam de prisão, vindo a morrer muitos deles por falta de água e alimento. Alguns foram marcados com ferro em brasa e vendidos como escravos — mas destes, paradoxalmente, muitos conseguiram retornar para casa.
Quando chegaram de volta a Atenas, estes sobreviventes foram agradecer a Eurípides por ter-lhes salvado a vida com suas peças geniais. O autor de Medeia há muito convivia com prêmios e com aplausos, acostumado que estava a vencer os festivais de dramaturgia, mas quis saber de que maneira sua obra, desta vez, tinha conquistado uma recompensa de tal magnitude. A explicação era tão simples quanto fantástica: de todos os gregos que habitavam fora da Grécia propriamente dita, os siracusianos eram os mais ardentes aficionados de suas peças. Aliás, a paixão que eles nutriam pelo teatro deste autor já tinha ficado demonstrada quando, certa feita, ainda em tempo de paz, um navio de Atenas, perseguido por piratas, tinha ido procurar abrigo no porto de Siracusa. De terra, uma voz perguntou se alguém a bordo podia recitar de cor algum texto de Eurípedes — e a autorização para ancorar só foi concedida diante de uma resposta afirmativa.
Esses fãs incondicionais, sempre que encontravam um prisioneiro que pudesse reproduzir alguma passagem de uma de suas peças, pediam que a repetisse tantas vezes quantas fosse necessário para memorizá-la. E tinha sido assim — ensinando a seus captores todos os fragmentos que podiam lembrar — que esses prisioneiros tinham conquistado o respeito de seus donos e, mais tarde, a própria liberdade.
É impossível imaginar uma cena dessas ocorrendo no séc. XXI: os atenienses da pós-modernidade não teriam uma linha sequer para compartilhar — o que, honestamente, não faria diferença alguma, porque os siracusianos de hoje também não estariam interessados. A própria beleza deste episódio, em si, é inacessível para grande parte do público atual, que não consegue compreender por que cargas d'água alguém faria tanto barulho por causa de um simples poeta. Podem me chamar de saudosista, passadista ou ultrapassado, mas confesso que esta história sempre me deixa melancólico, diante da constatação de que algo precioso e irrepetível foi perdido aqui para sempre.
_____________________
De certa forma, estou dizendo que antes era muito melhor. Sei que o sentimento não é novo; na verdade, é mais velho que as pirâmides, e se renova a cada geração, ao longo do desfile dos séculos, mas isso não o deixa menos pungente e assustador para mim — para mim e para todos nós, nesta sala, numa instituição dedicada às Letras, à Arte e à Cultura.
Há os que acreditam que amanhã tudo será melhor do que ontem, mas esses vivem na utopia e parecem não ter percebido que a história da humanidade não é uma escada que sempre sobe e nunca desce. Convencidos de que estão impulsionando o avanço e o progresso, desprezam o olhar retrospectivo e não sabem valorizar o legado dos que nos precederam. Por favor, não tomem esta crítica ao atual estado de coisas como um desejo de que se restaure o que já foi, o que seria um retrocesso, mas sim como o desejo de que não se perca a continuidade indispensável entre o passado e nosso presente. Desvincular o indivíduo da herança da terra em cujo solo ele vive é colocar em perigo a própria ideia de cidadania.
Mas estes são tempos estranhos. Estamos vivendo uma vertiginosa supremacia da imagem, do visual, do efêmero, o que deixa o mundo mais raso, desprovido de conteúdo e de memória. Nestes tempos esquisitos em que a ignorância parece ter mais valor do que o saber, em que celebridades e políticos se vangloriam publicamente de raramente tocar num livro, em que o MEC, num surto inexplicável de mediocridade, ameaça eliminar do ensino o estudo da história e da cultura ocidentais, fico muito feliz de ter sido convidado a participar deste grupo formado por pessoas que, respeitadas as diferenças individuais, compartilham o mesmo respeito pela cultura e pela linguagem, unidos por aquela sintonia natural dos que admiram a inteligência e respeitam a tradição. Muito obrigado.
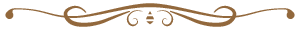

 ANTERIOR
ANTERIOR

 VER MAPA
VER MAPA