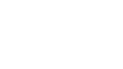TEXTOSDISCURSOS
Discurso de Posse na Cadeira 07 - Percival Puggina (20/05/2014)
20 de maio de 2014
Nas mais remotas lembranças de minha infância, estou sentado no chão olhando as páginas abertas de um exemplar do velho Correio do Povo. Fascinavam-me as letras grandes das manchetes e eu pedia a minha mãe que as ensinasse para mim. Foi assim que aprendi a ler, bem antes da idade usual. Aos cinco anos eu sabia muito bem quem era e o que fazia o general Douglas MacArthur na Guerra da Coreia.
Tive a graça de pertencer a uma geração cujos brinquedos eram muito pouco interessantes em comparação com o que está disponível no mundo multimídia da gurizada de hoje. Naquele tempo, quem não fosse dado a jogos de bola divertia-se puxando um carrinho de madeira (pelo cordão), ou corria pelo quintal montado num sarrafo, brincando de caubói. Com entretenimentos assim, era natural que os livros da biblioteca da família fossem muito recrutados para as horas de lazer. A falta de alternativas levava-nos a todos, crianças e adolescentes, para as matinês dominicais do cinema de Rivera onde assistíamos quatro filmes seguidos, numa sequência que durava toda a tarde. Felizmente, a leitura era um hábito de meus pais, o sempre curioso e estudioso Adolpho (por isso mesmo aclamado como uma espécie de google familiar) e de Eloah, poetisa de mão leve e espírito elevado, cujos versos eram lidos em casa e, não raro, declamados em eventos culturais da Santana do Livramento, onde nasci em 1944 como segundo de uma família de sete irmãos.
Menciono estas recordações porque, nos últimos dias, elas me acudiram insistentemente à memória como que estabelecendo um elo entre este ato e aquela infância passada em meio aos livros. Quando nos mudamos para Porto Alegre, tive a graça de ser aprovado para ingresso no Colégio Júlio de Castilhos. Iniciavam-se os anos 60. E o querido Julinho da minha adolescência era um colégio como não se vê mais. Intensa atividade escolar. Muita atividade cultural. Concursos organizados pelos alunos, através do Grêmio Estudantil. Sim, pelos alunos! Concursos de poesia, de declamação, de oratória. E ainda mais dinâmica atividade política. Dali saíram homens públicos, argutos jornalistas, polemistas e escritores. Eminentes profissionais nas mais variadas atividades. Um pecado o que foi feito com a Educação pública em nosso Estado!
Alguns anos mais tarde, como arquiteto que fui durante quase duas décadas em uma das três maiores empresas de projeto do país naquele tempo, meus primeiros diretores logo descobriram que eu sabia juntar palavras, que me dava bem com as concordâncias e que conhecia regência verbal. Como resultado, além das atividades de prancheta, cabia-me, em todos os projetos nos quais trabalhei, cuidar, também, da apresentação textual. Com isso, o desenho nunca me afastou da palavra escrita. E a forma arquitetônica, logo descobri, é irmã gêmea da forma verbal.
Mas se julguei necessário falar um pouco sobre minha relação com o mundo das palavras, da ideia impressa, foi apenas para me trazer onde quero chegar, valendo-me da oportunidade proporcionada por este ato.
O ano de 1985 foi um divisor de águas em meu destino. Foi o da redemocratização e, por isso mesmo, aquele em que voltei a me interessar pela política. Foi, também por isso, o ano de minha primeira filiação partidária. E foi, ainda, quando comecei a escrever para ser lido por pessoas que eu não sabia quem eram. Escrever para ser lido por indefinido público foi uma experiência nova, que iniciei como colaborador nas colunas de opinião do Jornal do Comércio e do Correio do Povo, em cuja página 4 permaneci, semanalmente, por 21 anos.
Gracejando comigo mesmo, en alquel entonces, como diriam nossos vizinhos castelhanos, escrevi este brevíssimo poema:
Por que escrevo? Que pergunta, seu moço!
Não é para garantir o almoço.
Nem a janta.
Pois de graça escrevo,
supostos tesouros de papel
apetitosos... às traças.
Descobri, malgrado esse gracejo, que ao prazer de escrever também correspondia o prazer de ser lido. Posteriormente, em 2006, fui convidado para ser colunista de Zero Hora. Já então eu havia publicado dois livros, minhas crônicas eram enviadas para mais de duas centenas de jornais, sites, blogs e revistas, e me embrenhara em meio às muitas dificuldades do mundo editorial.
Entre as mudanças ocorridas naquele ano de 1985, marcadas, ademais, pela morte de Tancredo Neves, descobri o caminho que deveria seguir no mundo das letras. A redemocratização do país foi o motor de arranque de muitas das minhas iniciativas pessoais. Era absolutamente inevitável: o país que saía dos governos militares entraria em turbulência. O Brasil de 1964 era um país rural, com 77 milhões de habitantes. O Brasil que 21 anos mais tarde emergia para a normalidade institucional era um país urbanizado, uma sociedade de massa, com 133 milhões de habitantes. Um país a exigir responsável comunicação de massa.
Seguiu-se, então, um tempo de desajustes. A lei do pêndulo impôs sua força. Ao romper-se o tirante que estabelecia limitações em demasia, arremeteu-se a nação para o lado das liberalidades excessivas. Saímos da censura para a licenciosidade. Da democracia relativa para o democratismo destrambelhado. Dos direitos restritos para os privilégios descabidos. O país que emergiu de um longo programa de Estado autoritário, jogou-se nos braços de um projeto de Estado paternalista, provedor, vertente inexaurível de todos os direitos. Qualquer postulação virava direito. E, pela lei - direito adquirido. Articularam-se em torno dessa visão todas as corporações nacionais. Sem exceção, acorreram elas à Assembléia Nacional Constituinte, sôfregas, em busca de seu quinhão e, em pouco tempo, ficou evidente que a soma das fatias sobejava o bolo. A carga tributária disparou, a corrupção cresceu, o poder centralizou-se contra a Federação. E perseveramos nos pecados mortais do nosso modelo institucional. Entregamos Estado, governo e administração às mãos de uma só pessoa e seu partido. Não tinha como dar certo. E continua não dando certo. Com incontornável relação de causa e efeito, o Estado, que não pára de crescer, gerando mais e mais cargos e postos de mando, estimula a surgimento de novos partidos que já ao nascer, vão em busca do seu quinhão. E por aí me embrenho eu, lendo e escrevendo. Suscito animosidades, sei. Mas vejam só: eu apenas leio e escrevo.
***
Nossa capital, em 1844, era pouco mais que uma vila. Com cerca de vinte mil habitantes, para conter as investidas dos farroupilhas fora murada nos limites urbanos que terminavam ali na Praça do Portão. Foi nessa longínqua realidade de 1844 que nasceu Carlos Augusto Ferreira o patrono da Cadeira nº 7 na qual me está sendo dado o privilégio de hospedar-me. Provisoriamente. Mas aquela Porto Alegre, estremecida por nove anos de guerra e atrasada na urbanização, já antecipava a fertilidade que viria a ter nas coisas da cultura, como berço dos contemporâneos Caldre e Fião, Luciana de Abreu, Hilário Ribeiro, entre muitos outros. Por isso, quando D. Pedro II passou pela sede da província, em 1865, indo para a frente de batalha da Guerra do Paraguai, foi saudado com versos de um jovenzinho de 21 anos que causou tão boa impressão ao imperador (ele mesmo um versejador de poucos dotes) que este o mandou estudar em São Paulo. Lá, porém, Carlos Ferreira empolgou-se pelo jornalismo e pela causa republicana, afastando-se da proteção da Coroa.
Talvez por ter vivido a maior parte de seu tempo longe de Porto Alegre, Carlos Ferreira ficou pouco conhecido entre nós. Morou em São Paulo, onde trabalhou como redator do Correio Paulistano, no Rio de Janeiro onde foi redator do Correio do Brasil. Com o advento da República, foi nomeado primeiro tabelião da cidade de Campinas, onde fundou a Gazeta de Campinas. Simultaneamente à atividade jornalística, Carlos Ferreira extravasava talento como comediógrafo, poeta, romancista e tradutor, em especial sintonia com a obra de Beaudelaire. Pelos seus muito dons sentou-se em duas Academias de Letras - na paulista e na rio-grandense. São suas obras poéticas, além das traduções de Beaudelaire:
- Cânticos Juvenis, 1867
- Rosas loucas, 1868
- Alcíones, 1870
- Redivivas, 1881
- Plumas ao vento, 1908
Eis um trecho, uma palhinha, de seu Rosas Loucas:
Oh Rosas Loucas que o verão bafeja
- Odaliscas gentis de sonhos grandes!
Deixai que eu passe junto a vós cantando
- Ave saudosa que rolou dos Andes.
Sou moço e sonhador. Minh’alma é triste
Sente o espinho cruel do amor mundano
E no entanto em meu peito as crenças brincam,
Garças brancas perdidas no oceano.
Minha lira febril soluça e goza
Amo Deus, a Mulher e a Liberdade.
Os raios de luar bebem-me as lágrimas
E eu bebo a luz do sol da imensidade!
Escreveu comédias e dramas para o teatro:
- Lúcia, 1868
- Madalena, 1868
- Mártires do coração, 1869
- A calúnia, 1871
- Histórias Cambiantes, contos, 1872;
- Os pequenos e os grandes, 1872
- O marido da doida, 1874
- A esposa, 1880
- A Primeira Culpa, romance de costumes e histórico, 1889
Também foi colaborador, junto com Apolinário Porto-Alegre, Damasceno Vieira, e Fontoura Xavier, do periódico Álbum de Domingo, no qual se desenvolveu debate realista, cientificista e moderno, na cidade de Porto Alegre.
Uma nota sobre ele no Blog Maragato cita comentário do escritor português Fernandes Costa, para quem, na obra de meu distinto patrono, "há inspiração, há verdade, há sentimento; há a expressão de crenças sinceras e boas na virtude, no amor, na honestidade, no Bem".
Sinto-me confortável, então, nessa cadeira. Por quê? Porque se me falta o talento, não me faltam essas mesmas crenças e apreços. São eles que me animam sempre que escrevo. Estou mais convencido, a cada dia, que a nação brasileira precisa retomar o caminho dos valores perenes; precisa buscar a verdade independentemente de quantas vezes a mentira é repetida; precisa exaltar as virtudes e não os vícios. E precisa retirar esse sentimento e dom esplêndido que é o amor da calabouço onde o jogaram em nome de uma falsa liberdade e de um ainda mais falso progresso social. Amor de aventura, egoísta, que causa frêmitos mas não resiste ao sacrifício, não é amor. E quando com amor é confundido, pouca coisa escapa à sua capacidade de destruição.
Amigos, o grande Padre Vieira, em um de seus sermões, parece falar ao mundo contemporâneo:
"Príncipes, Reis, Imperadores, Monarcas do Mundo: vedes a ruína dos vossos Reinos, vedes as aflições e misérias dos vossos vassalos, vedes as violências, vedes as opressões, vedes os tributos, vedes as pobrezas, vedes as fomes, vedes as guerras, vedes as mortes, vedes os cativeiros, vedes a assolação de tudo? Ou o vedes ou o não vedes. Se o vedes como o não remediais? E se o não remediais, como o vedes? Estais cegos.
E cegos (digo eu) emitem sinais de estar - governantes e governados! Uns pelo poder. Outros pelo sofrer. Outros pelo descrer. Outros pelo refulgir do ouro no bezerro de sua idolatria.
Sou católico, de berço e terço. Então, sigo com Vieira, falando à sua própria Igreja:
Príncipes, Eclesiásticos, grandes, maiores, supremos, e vós, ó Prelados, que estais em seu lugar: vedes as calamidades universais e particulares da Igreja, vedes os destroços da Fé, vedes o descaimento da Religião, vedes o desprezo das Leis Divinas, vedes o abuso dos costumes, vedes os pecados públicos, vedes os escândalos, vedes as simonias, vedes os sacrilégios, vedes a falta da doutrina sã, vedes a condenação e perda de tantas almas, dentro e fora da Cristandade? Ou o vedes ou não o vedes. Se o vedes, como não o remediais, e se o não remediais, como o vedes? Estais cegos.
Se vejo, não calo. E por tudo isso escrevo sobre inexplicáveis parcerias que vejo instaladas entre as representações dos poderes temporal e espiritual.
Mas Vieira vai além, desafiando-me.
Ministros da República, da Justiça, da Guerra, do Estado, do Mar, da Terra: vedes as obrigações que se descarregam sobre vosso cuidado, vedes o peso que carrega sobre vossas consciências, vedes as desatenções do governo, vedes as injustiças, vedes os roubos, vedes os descaminhos, vedes os enredos, vedes as dilações, vedes os subornos, vedes as potências dos grandes e as vexações dos pequenos, vedes as lágrimas dos pobres, os clamores e gemidos de todos? Ou o vedes ou o não vedes. Se o vedes, como o não remediais?" E se o não remediais, como o vedes? Estais cegos.
Não tenho qualquer poder terreno, exceto aquele que aprendi ao perceber que as letras formavam palavras e que as palavras significavam algo. É delas que me sirvo. E é com elas que me proponho a prosseguir servindo meu país. E, doravante, enquanto me restar alento e juízo, a esta nobre Academia, onde entro como aprendiz. Se meu patrono Carlos Augusto Ferreira começou a vida como aprendiz de ourives e passou a produzir joias do idioma, não me faltará o que aproveitar como aprendiz de meus confrades.
Quero agradecer. Aos meus pais, Adolpho e Eloah, verdadeiras dádivas do Senhor nas vidas de seus sete filhos. A minha mulher, Mariza. Ela é a primeira leitora de cada linha que escrevo. Pelo sempre bom conselho e pela inesgotável paciência. A meus filhos, Cristian e Mariana e ao meu neto Lucas. Vocês são permanente inspiração e motivação. São a vida que prossegue. Vocês caminham e caminharão pelos rumos que a minha geração tiver desenhado e com muitos dos meios que pudermos proporcionar. Contanto que, é claro, não nos mantenhamos como os cegos do Padre Vieira.
Aos meus amigos do Movimento de Cursilhos, a quem homenageio na pessoa do inesquecível Padre Florindo Ciman, que muito me fez estudar enquanto me mostrava em centenas de conversas, através dos anos, que a Fé não é rival mas fraterna amiga da Razão. E que é muito melhor andar nas doçuras e agruras da vida com Deus do que sem Deus. Aos meus amigos da ADCE, pelos exemplos de vida que me proporcionam. Ao meu grupo de Reflexão, aos amigos do grupo Pensar+, e, naturalmente, aos meus leitores pelas palavras de estímulo com que, Deo Gratia, nunca me faltaram.
Senhores, senhoras, amigos. As letras que até aqui me trouxeram não desfrutam do incerto privilégio da unanimidade. Estou num momento da jornada em que tenho muito mais passado do que futuro. Não sei se já fiz muito ou pouco. Mas sei que certamente fiz menos do que deveria. Afortunadamente, há um bom tempo joguei fora as irresoluções.
Numa sociedade de massa
- onde tantos foram gradualmente perdendo referências e deixando tombar Valores pelo caminho;
- onde a História se perde num emaranhado de versões disformes;
- onde tantos e tantos sabem mais sobre seu clube de futebol do que sobre a pátria comum;
- numa nação que oscila entre amor e ódio, entre orgulho e vergonha de suas raízes;
- numa sociedade que aclama o relativismo como expressão de sabedoria, e que, como consequência, não apenas hesita entre o agir certo e o agir errado, o que é da natureza humana, mas não mais distingue uma coisa da outra;
numa sociedade, enfim, na qual tantos se atolam em incertezas e dúvidas, e morrem sem saber o que deveriam ter sido, eu tenho a terrível audácia de publicar minhas crenças.
Eu creio em Deus, creio na família, creio que há um bem e um mal, creio que há verdades e sei que há mentiras. Procuro as primeiras enquanto fujo das outras. Não consigo deixar de ver, nessa faina, uma tarefa indeclinável a quem vive e se comunica, com senso de responsabilidade, numa sociedade de massa.
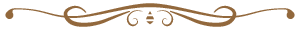

 ANTERIOR
ANTERIOR

 VER MAPA
VER MAPA